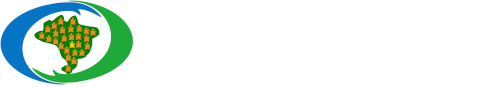CONCEPÇÕES SINDICAIS
- ANARCOSINDICALISMO
Anarco-sindicalismo é uma doutrina sindical que alia elementos do anarquismo e do marxismo. Os anarcossindicalistas acreditam que os sindicatos podem ser utilizados como instrumentos para mudar a sociedade, substituindo o capitalismo e o Estado por uma nova sociedade democraticamente autogerida pelos trabalhadores.
O anarco-sindicalismo percebe no sindicalismo um aprendizado para os trabalhadores na sociedade capitalista ganharem o controle da economia e influenciar a sociedade de forma mais ampla. Consideram suas teorias econômicas uma estratégia para facilitar a autogestão do trabalhador através de um sistema econômico cooperativo alternativo com valores democráticos e produção centrada na satisfação das necessidades humanas.
Os princípios básicos do anarco-sindicalismo são a solidariedade, a ação direta (ação realizada sem a intervenção de terceiros, como os políticos, burocratas e árbitros) e democracia direta, ou a autogestão dos trabalhadores. O objetivo final do anarco-sindicalismo é abolir o sistema de salários, relacionando este sistema de salários com a escravidão assalariada. A teoria anarco-sindicalista, portanto, geralmente se concentra no movimento operário.
Uma vertente atual se autodenomina de situacionistas. Esta vertente surgiu na vila italiana de Cosio di Arroscia, Liguria, em 28 de julho de 1957 com a fusão de várias tendências artísticas, que se auto definiam a vanguarda da época: Internationale lettriste, o International movement for an imaginist Bauhaus e a London Psychogeographical Association. Esta fusão incluiu influências adicionais do movimento COBRA, dadaísmo, surrealismo, e Fluxus, e foi inspirado pelo comunismo de conselhos e pela Revolução Húngara de 1956. No Brasil, sofreu forte influência do movimento punk e tem nas federações anarquistas gaúcha e carioca suas principais organizações. O livro de Guy Debord, “A Sociedade do Espetáculo” (1967) teve grande repercussão no interior desta vertente.
Em contraste com o marxismo-leninismo, os anarco-sindicalistas negam que pode haver qualquer tipo de estado operário, ou um estado que age no interesse dos trabalhadores, em oposição àqueles dos poderosos, e que qualquer Estado vai inevitavelmente acabar fortalecendo a si mesmo ou a elite existente em detrimento dos trabalhadores. Refletindo a filosofia anarquista do qual ele retira sua principal inspiração, o anarco-sindicalismo sustenta a ideia de que o poder corrompe.
As primeiras expressões da estrutura e métodos anarco-sindicalista foram formuladas na Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional, em particular na federação do Jura.
A união da corrente ideológica anarquista com o sindicalismo não se deu desde o princípio e nem de forma harmoniosa e regular. O primeiro contato foi feito com a entrada de Bakunin e seus adeptos na AIT. Tal inserção foi contestada por alguns anarquistas, como Errico Malatesta, que acreditavam que os sindicatos não eram locais propícios para a prática revolucionária uma vez que serviam a interesses meramente econômicos e, portanto, até mesmo retrógrados em relação a uma possível revolução que deveria estar focada na abolição do Estado e de toda exploração dos homens uns sobre os outros, assim com a autogestão da produção.
No entanto, a difusão do pensamento anarquista nas organizações sindicais ganhou significativa força em países como França, Itália e Espanha.
No Brasil do início do século XX, com chegada dos imigrantes europeus, o desenvolvimento de sindicatos de base anarquista foi predominante. O anarcossindicalismo foi a principal base de reivindicações trabalhistas e de grandes greves como foi a greve de 1917.
O auge do movimento anarquista ocorreu durante a crise de produção gerada pela Primeira Guerra Mundial e a queda vertiginosa dos salários dos operários, que acabou por desencadear uma onda de greves, entre 1917 a 1920. Em 1917, especial, destaca-se o papel desta corrente sindical durante a greve geral. Em São Paulo, iniciada numa fábrica de tecidos e que recebeu a solidariedade e adesão inicial de todo o setor têxtil, seguindo as demais categorias.
Parte desta lógica ressurgiu em ações de massa no século XXI, com valorização da ação direta e da prática Black Bloc, em especial, na estruturação de alguns coletivos sindicais de professores na cidade de São Paulo.
- SINDICALISMO POPULISTA
O populismo é uma denominação às práticas de mobilização de massas (no caso brasileiro, massas urbanas que se multiplicam em virtude do processo acelerado de industrialização e urbanização dos anos 1950) e liderança demagógica (em que a elite política ou sindical se refere aos liderados como se fossem iguais, mas raramente abrindo mão do centralismo político, refutando qualquer estrutura horizontalizada ou de alta participação da base no processo de tomada de decisões).
Tendo como principal organização sindical o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), o sindicalismo populista – ou da etapa populista da política nacional – esboçou-se na década de 1950 e teve seu ápice no início dos anos 1960.
O sindicalismo populista teve como principal característica a dependência ou interlocução privilegiada com o aparelho de Estado que chega a promover e organizar sindicalmente os trabalhadores, seguindo a linha da unicidade e da contribuição sindical, que vinculam o sindicato ao Estado. Em virtude do foco – ou dependência – central do sindicalismo populista ser o Estado, suas bandeiras de lutas privilegiavam reformas da agenda nacional (reforma bancária, reforma agrária, reforma urbana, entre outras) e tinham nas mobilizações trabalhistas um meio de fortalecer suas cúpulas e, assim, aumentar seu poder de barganha junto ao Estado. Esta prática diminuía a importância de agendas sindicais com demandas cotidianas ou organização no local de trabalho e, na prática, aumentava a relação entre sindicatos e partidos políticos.
Alguns autores, como Armando Boito Jr., sugerem que este tipo de corporativismo gerou um sindicalismo de Estado, ou seja, uma estrutura de controle do Estado sobre o movimento sindical, tendo no imposto sindical seu cordão umbilical. Nas décadas de 1950 e 1960, sindicalistas vinculados ao PCB e PTB tiveram papel ativo na disseminação desta concepção sindical, comandando a maioria das federações e confederações sindicais do país.
Esta concepção foi apelidada por alguns como “cupulista” na medida em que as cúpulas sindicais tinham total controle e comando das práticas e montagem das agendas sindicais, muitas vezes orientada para conquista de postos na alta esfera da estrutura sindical ou mesmo no interior dos órgãos de governo.
Na abertura política, nos anos 1980, alguns princípios desta concepção apareceram numa frente denominada Unidade Sindical, como a defesa da unicidade sindical (existência de uma única entidade sindical representativa de uma categoria, em determinada base territorial, por imposição estatal), da estrutura sindical oficial (organizada em confederações, federações e sindicatos) e do imposto sindical.
- SINDICALISMO MOBILISTA
O mobilismo é uma concepção de legitimação sindical apoiada na capacidade de mobilização permanente, e atos de conflito e pressão política sobre o patronato, para conquistar demandas. Foi uma prática fartamente aplicada no início do processo de redemocratização do Brasil, no final dos anos 1970 e durante todo período de 1980.
Nos anos 1980, esta concepção forjou a corrente nacional “Sindicalismo Autêntico” (se contrapondo ao que denominavam de peleguismo ou sindicalismo de cúpula), que ainda não dirigia a maioria das federações e confederações dos trabalhadores. Pleiteava a superação da estrutura sindical varguista, corporativa, que seria substituída pela organização de base – em comissões de fábrica ou empresa -, na contribuição espontânea da base sindical (em virtude do engajamento e do sucesso das lutas sindicais) e na criação de centrais sindicais. Vale registrar que na Europa é possível existir mais de um sindicato que represente a mesma base sindical de um determinado sindicato, podendo ser filiado ou não a uma central sindical. Neste caso, o sindicato de uma categoria é identificado como sendo de uma central ou uma articulação.
Dada a lógica de permanente mobilização da base, as estruturas de tomada de decisão são necessariamente horizontais, assembleísticas (adoção de mecanismos de democracia direta) e com forte relação da direção sindical junto ao “chão da fábrica”. O mobilismo exige, ainda, presença permanente de dirigentes e assessorias na base sindical e mecanismos de comunicação direta (panfletagens na entrada de turnos, assembleias constantes e ações de massa, jornais e boletins semanais).
O mobilismo exige politização da base sindical e um clima emocional de enfrentamento com forte sentimento de injustiça. Daí o perfil carismático de suas lideranças, excelentes oradores, muitas vezes sarcásticos e irônicos e altamente emotivos, tendo como mote uma descarga de energia que objetiva eletrizar as bases sindicais. A emoção e alegorias místicas (que forjam identidade e crença coletivas) são a tônica dos mecanismos de comunicação direta entre direção e trabalhadores representados.
No Brasil, esta lógica fundou a criação da CUT, em 1983, e chegou a manter diferenças no interior deste bloco com as oposições sindicais – ainda mais basistas – e setores mais à esquerda deste bloco sindical (como as correntes trotskistas). Nos anos 1990, uma importante inflexão iniciou a transição deste bloco político para o neocorporativismo.
- SINDICALISMO DE RESULTADOS
O termo foi criado por Luís Antônio de Medeiros, quando dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (SinMet). À frente do SinMet, Medeiros tornou-se o principal expoente do “sindicalismo de resultados”, que defendia a melhoria salarial em detrimento da discussão política.
O termo é uma tradução livre do “business union” norte-americano, uma corrente sindical que se opõe ao sindicalismo de classe ou revolucionário e tem o princípio de que os sindicatos devem ser administrados como empresas. O termo foi aplicado em particular à experiência sindical dos EUA e já era empregado neste país desde 1915, ressaltando a “consciência comercia” (ou “de negócios”), ao invés da consciência de classe como força motriz.
Nos Estados Unidos, vale destacar, houve aproximação entre o consumo como valor e o individualismo libertário. Desta junção, emergiu a agenda da melhoria de oportunidades de educação para os trabalhadores norte-americanos, associada à demanda por construção de casas nos subúrbios e melhoria na qualidade de vida. A partir dos anos 1950, os pais dos “baby boomers” foram a primeira geração a ter acesso significativo ao crédito ao consumidor, gerando uma cultura consumista e altamente individualista como a percebida no Brasil dos últimos dez anos.
A prática sindical desta corrente é marcada pela forte hierarquia e assessoria bem remunerada (de maneira estratificada) e com dedicação exclusiva às entidades sindicais. O sindicalismo de resultados cria uma burocracia centralizada e se apresenta como independente ideologicamente. O “representante sindical”, que ganha mais do que os trabalhadores sindicais, é um elemento-chave dessa estrutura, definindo uma carreira específica.
De acordo com este modelo, o principal “campo de batalha” sindical são as salas de reuniões, onde os líderes sindicais bem remunerados negociam com empresários bem remunerados, dedicados e auxiliados por uma assessoria qualificada.
Os opositores desta corrente afirmam que se trata de parceria sindical com o capital, em que o trabalhador é apresentado como fator de produção e a ordem social é aceita como natural, transformando a luta sindical em luta pela inclusão social pelo consumo.
- SINDICALISMO NEOCORPORATIVO
O termo neocorporativismo foi muito discutido no Brasil nos anos 1990, quando do confronto entre a organização sindical cutista e o projeto de reorganização do Estado brasileiro (denominado de “Estado Gerencial”) e disseminação da agenda neoliberal.
Foi Philippe Schimtter que tornou o conceito uma referência na análise do movimento sindical contemporâneo. Se expressa como um salto das centrais sindicais ao campo das negociações das políticas públicas. No caso Europeu, foi mais longe, definindo o Ministro do Trabalho, parte de sua equipe de trabalho e prioridades da gestão pública.
Há autores brasileiros que afirmam que o início desta lógica foi a criação das câmaras setoriais, sendo a mais importante a do setor automobilístico, iniciadas no governo Collor, retomadas nos governos seguintes. Alguns denominam de mesocorporativismo, tendo em vista a formação de uma arena de negociação tripartite no âmbito dos interesses de uma categoria profissional específica. Esta nova dimensão política do sindicalismo engendra uma forte mudança na lógica de legitimação dos dirigentes sindicais. Da lógica do mobilismo, pressão de rua e greves para abertura de negociação com patronato, para a lógica da capacidade técnica, mais elitizada, que diminui a importância da mobilização e poder da base sindical.
As negociações em altas esferas da gestão pública exigem capacidade dos dirigentes sindicais, que cruzam ou mesclam a direção sindical com influência político-partidária.
Na prática, o neocorporativismo reintroduz agendas gerais e de reformas econômicas e sociais como centro da agenda sindical. A autonomia das bases passa a ser relativizada e, em alguns casos (como o europeu), tal distanciamento chegou a autonomizar a organização das comissões de fábrica ou empresa em relação às centrais sindicais.
Como agenda auxiliar, incorporou políticas de focalização (atendimento à demandas de segmentos sociais específicos, como luta antirracismo, direitos da mulher, apoio às crianças e adolescentes, jovem aprendiz, entre outros) e temas de políticas públicas (política externa, investimentos em infraestrutura, entre outros), apoiadas por produção teórica, pesquisas e assessorias altamente qualificadas.
No Brasil, esta lógica chegou ao seu ápice nos primeiros anos de governo Lula e teve no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) sua arena mais visível.